Quais situações corroboraram para a emergência do capitalismo e, por consequência, o triunfo da burguesia europeia?
O Estado capitalista e a luta de classes
Tema 1 A formação da sociedade capitalista industrial e a classe trabalhadora
Iniciaremos nossa discussão refletindo sobre a nossa realidade atual. Vivemos em uma sociedade capitalista estruturada em classes e estamos tão acostumados a consumir produtos industrializados, que nem sempre paramos para pensar o quanto o processo envolvido na produção daquilo que consumimos — ou mesmo produzimos — revela do capitalismo.

Por exemplo, quando vamos ao mercado e compramos uma embalagem de pó de café, até esse produto chegar à prateleira, foi preciso que sua semente fosse adquirida e plantada, depois que o fruto fosse colhido, limpo, descascado, secado, torrado, moído, embalado, transportado e vendido para o comércio interno e externo.
Hoje, boa parte desse processo de beneficiamento do café pode ser feita a partir de maquinarias, demandando novas dinâmicas no mundo do trabalho, que basicamente pode ser constituído por detentores/detentoras dos meios de produção, pelos trabalhadores e trabalhadoras que vendem sua força de trabalho para sobreviver e, ainda, pelos consumidores e consumidoras.
Beneficiamento do café
O beneficiamento de café configura-se como um conjunto de operações em que o objetivo é obter lotes homogêneos que atendam padrões de comercialização e ou industrialização (REZENDE; ROSADO; GOMES, 2007; MATIELLO et al., 2002 apud SILVA; MORELI; JOAQUIN, 2015.)
As relações desses sujeitos posicionados em classes sociais distintas são regulamentadas pelo Estado e mediadas pelas leis do mercado.
Pense sobre o exemplo do café e vamos à nossa realidade para identificarmos as características da sociedade capitalista industrial. Considere que nem sempre essa foi a forma de produzir e consumir em uma sociedade, ou seja, a sociedade capitalista se constituiu em um processo histórico.
Afinal, de que processo histórico estamos falando?
Sabemos que hoje as mercadorias possuem formas de produção e circulação condicionadas pela industrialização e economia global, mas isso nem sempre foi assim. Se pudermos conversar com as pessoas mais idosas da nossa comunidade, provavelmente ouviremos de um tempo em que as pessoas costuravam suas próprias roupas, tinham hortas e criavam animais para garantir a sua própria alimentação, bem como histórias de pessoas completamente desassistidas de direitos trabalhistas — os quais estão novamente em crise. Ainda que você, estudante, tenha contato ou realize trabalho rural e/ou trabalho informal, a maneira de vivenciar essa experiência é muito diferente de 100 anos atrás.
Isso porque, no Brasil, o avanço da industrialização e da urbanização ocorreu principalmente de meados do século XX em diante. No entanto, o caso brasileiro está intimamente ligado ao processo histórico europeu, tendo em vista o seu histórico colonial a partir do século XVI.
Sendo assim, para falarmos da sociedade capitalista industrial, devemos considerar que ela é um desdobramento do capitalismo comercial instaurado pela Europa Moderna, que tinha como base a formação das monarquias nacionais, o desaparecimento dos laços feudais e as práticas econômicas mercantilistas, principalmente em relação aos territórios colonizados.
Nesse momento, a burguesia europeia acumulou riquezas possibilitando o desenvolvimento tecnológico, o surgimento do imperialismo e a emergência daquilo que Eric Hobsbawm denominou de a Era do Capital, que, para o autor, pode ser demarcado historicamente pelo período de 1848-1875.
Eric Hobsbawm (1917-1912), historiador britânico.
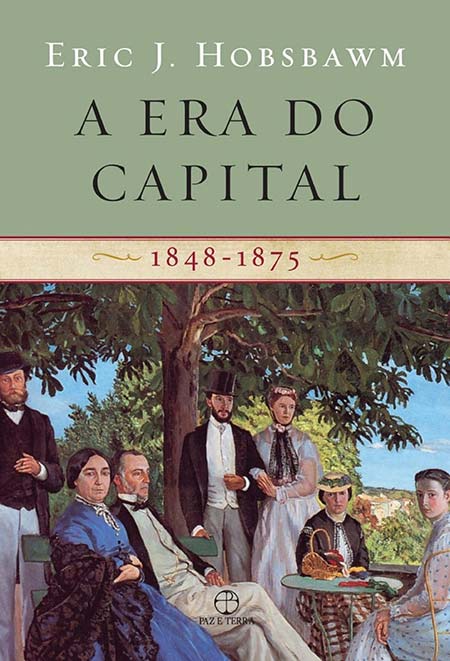
HOBSBAWN, E. A era do capital: 1848-1875. São Paulo: Paz e Terra, 2015.
A ascensão do capitalismo, por suas contradições próprias, inaugurou o período de luta entre a burguesia e a classe trabalhadora. Não por acaso, na era do capital, temos a publicação do Manifesto Comunista (1848) e de O Capital (1867), entre tantos outros escritos de Karl Marx. O capitalismo, dessa maneira, passa a ser tema de muitos debates e, inclusive, de acordo com Hobsbawm:
Karl Marx (1818-1883), filósofo, economista, jornalista, sociólogo, historiador e revolucionário socialista alemão.
O triunfo global do capitalismo é o tema mais importante da história nas décadas que sucederam 1848.
(HOBSBAWM, 2007, p. 19)
Dito isso, vale destacar que, além da expropriação de riquezas dos povos originários da América, o acontecimento das Revoluções na França e da Revolução Industrial corroboraram para a emergência do capitalismo e, por consequência, para o triunfo da burguesia europeia.
Para nos ajudar a entender que sociedade triunfante era essa, destacamos outro trecho de Hobsbawm, apresentado a seguir:
Foi o triunfo de uma sociedade que acreditou que o crescimento econômico repousava na competição da livre iniciativa privada, no sucesso de comprar tudo no mercado mais barato (inclusive trabalho) e vender no mais caro. Uma economia assim baseada, e, portanto, repousando naturalmente nas sólidas fundações de uma burguesia composta daqueles cuja energia, mérito e inteligência elevou-os a tal posição, deveria — assim se acreditava — não somente criar um mundo de plena distribuição material, mas também de crescente felicidade, oportunidade humana e razão, de avanço das ciências e das artes, numa palavra, um mundo de contínuo e acelerado progresso material e moral.
(HOBSBAWM, 2007, p. 19)
Apesar do reconhecimento do triunfo dessas ideias, Hobsbawm estava longe de ser um entusiasta dessa sociedade. Pelo contrário, também ponderou que, nesse ideal burguês, não havia espaço para a felicidade e oportunidade para a imensa classe trabalhadora. Segundo o historiador, na era do capital, propunha-se, no plano do discurso, que trabalhadores e trabalhadoras trabalhassem para ascenderem socialmente, porém, na prática, a vida e a expectativa não eram iguais para todos.
Entenda, no trecho destacado a seguir, a justificativa do autor para esta contradição:
[...] nos países do Velho Mundo a classe média acreditava que os trabalhadores deveriam ser pobres, não apenas porque sempre tinham sido, mas também porque a inferioridade econômica era um índice adequado de inferioridade de classe. Se, como aconteceu ocasionalmente — por exemplo no grande boom de 1872-73 —, alguns trabalhadores chegassem a receber suficientemente para se darem ao luxo de desfrutar dos privilégios que os empregadores olhavam como seus direitos naturais, a indignação que isto levantava era sincera e vinha do fundo do coração. O que é que mineiros tinham a ver com pianos de cauda e champagne? Em países com carência de trabalhadores, hierarquia social subdesenvolvida e uma população operária truculenta e democrática, as coisas poderiam ser diferentes; mas na Inglaterra e na Alemanha, França e Império dos Habsburgos, diferente da Austrália e dos Estados Unidos, o máximo adequado para a classe trabalhadora era uma quantidade suficiente de comida boa e decente (preferivelmente sem muita bebida), um lugar modesto para vida social, vestimenta adequada para proteger a moral, e saúde e conforto sem arriscar uma tendência à imitação dos melhores na escala social. Esperava-se que o progresso capitalista viesse eventualmente trazer os trabalhadores próximo a este ideal, e infelizmente (o que não implicava em aumentar salários) muitos ainda estavam abaixo deste nível. Portanto, era desnecessário, indesejável e perigoso aumentar salários além daquele limite.
(HOBSBAWM, 2007, p. 304)
O paradoxo liberal das revoluções europeias
A partir das ponderações de Hobsbawm, podemos admitir que, em certa medida, os ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade da Revolução Francesa circulavam no mundo burguês e criavam uma aparência mais civilizada para uma lógica social emergente e perversa com a maioria absoluta da sociedade.

Não é difícil encontrar eco desse paradoxo burguês na nossa sociedade atual. Para exemplificarmos, podemos ter como parâmetro o filme Que horas ela volta, de 2015, protagonizado pela atriz Regina Casé, que viveu a personagem Val, uma mulher nordestina, empregada doméstica, que morava na casa dos seus empregadores e que, embora fosse tratada como “da família”, sofria uma série de violências simbólicas no seu cotidiano. Em uma das cenas, ela presenciou a piscina ser esvaziada, a mando da patroa, depois que Jéssica, filha de Val, entra na piscina e se diverte com o filho dos patrões.
Sinopse:
A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.
Sinopse extraída do Site.
Aproveitamos para lembrar que o trabalho doméstico, no Brasil, tem origem no trabalho de sujeitos escravizados durante o período colonial, tendo sido devidamente regulamentado apenas em 2015.
Assim, evidenciamos continuidades, no tempo presente, de um discurso liberal que maquia a desigualdade social e a perversidade do capitalismo. Essas questões, aliás, podem ser problematizadas pelo fato de a Revolução Industrial ter suprimido a revolução política reivindicada pelos franceses. Destacamos o trecho a seguir, em que o autor embasa essa questão:
A Revolução Industrial (inglesa) havia engolido a revolução política (francesa). A história de nosso período é, portanto, desequilibrada. Ela é primariamente a do maciço avanço da economia do capitalismo industrial em escala mundial, da ordem social que o representa, das ideias e credos que pareciam legitimá-lo e ratificá-lo: na razão, ciência, progresso e liberalismo. É a era da burguesia triunfante, mesmo que a burguesia europeia ainda hesitasse em assumir um papel político público.
(HOBSBAWM, 2007, p. 21)
O avanço do capitalismo industrial veio acompanhado do surgimento das fábricas e da propriedade privada. Defendia-se que o Estado pouco deveria interferir na economia, deixando o mercado livre para se autorregular. Por isso, Hobsbawm identifica o triunfo da revolução industrial sobre a política.

Aliás, ao se referir ao caso revolucionário francês, Hobsbawm não menciona apenas a Revolução Francesa de 1789, trata-se também do que ficou conhecido como Primavera dos Povos.
Vale lembrar aqui da Primavera dos Povos, também conhecida como II Revolução Francesa: foi um conjunto de reações populares que eclodiram em 1848 na Europa, em virtude tanto da insatisfação com a desigualdade social promovida pela industrialização por um lado, e, de outro, com a restauração de monarquias europeias depostas durante o período napoleônico.
Sobre a relação das revoluções francesas, Hobsbawm evidencia que a revolução industrial legou o triunfo do capitalismo liberal, que tinha seus ideólogos políticos burgueses seguidos de uma massa movida pelo afã de tornar revoluções liberais, de caráter moderado, em revoluções sociais. Observe o trecho apresentado a seguir, no qual o autor complementa esta ideia:
Portanto o dualismo da revolução de 1789 a 1848 dá à história deste período unidade e simetria. É fácil, num certo sentido, ler e escrever sobre este assunto, pois parece possuir tema e forma claros, assim como seus limites cronológicos parecem tão precisamente definidos quanto é possível no que diz respeito a assuntos humanos. Com a revolução de 1848, [...] a antiga simetria quebrou-se, a forma modificou-se. A revolução política recuou, a revolução industrial avançou. Mil novecentos e quarenta e oito, a famosa “primavera dos povos”, foi a primeira e última revolução europeia no sentido (quase) literal, a realização momentânea dos sonhos da esquerda, os pesadelos da direita, a derrubada virtualmente simultânea de velhos regimes da Europa continental a oeste dos impérios russo e turco, de Copenhague a Palermo, de Brasov a Barcelona. Foi esperada e prevista. Pareceu ser a consequência e o produto lógico da era das duas revoluções.
(HOBSBAWM, 2007, p. 20)
As Revoluções de 1848 não foram bem-sucedidas se pensadas sob a perspectiva de movimento. No entanto, por outro lado, foram capazes de abalar as estruturas políticas e econômicas da época, tendo em vista, por exemplo, a conquista do sufrágio universal masculino, na França.
O fracasso da revolução significou o triunfo da sociedade burguesa capitalista.
Depois dessa tentativa, nenhuma outra veio a acontecer na Europa — as revoluções sociais socialistas, por exemplo, aconteceram em lugares como México e Rússia. Com isso, as circunstâncias ideais para o desenvolvimento da economia privada na Europa foram instauradas.
Representando a angústia diante da não superação das desigualdades sociais, apresentamos, a seguir, o poema que Hobsbawm elege como epígrafe do capítulo A cidade, a indústria, a classe trabalhadora:
Agora eles fazem até o nosso pão diário
Com vapor e com turbina
E muito em breve, a nossa própria conversa
Vamos empurrá-la com uma máquina
Em Trautenau há duas igrejas,
Uma para os ricos e outra para os pobres;
Nem mesmo na sepultura
É o pobre desgraçado seu igual.
Poema in Trautenau Wochenblatt, 1869 apud HOBSBAWM, 2007, p. 291.)
Notamos, por meio desse poema, o sentimento daqueles e daquelas que testemunharam as transformações no mundo do trabalho em transição para o capitalismo industrial. Em contraposição ao otimismo e ostentação burguesa, consolidada na exploração na força produtiva dos trabalhadores e trabalhadoras, estes eram relegados a conviver em moradias e ambientes de trabalho insalubres, e constatar a distinção social até na hora da morte.
Nem nas sepulturas as classes seriam iguais. Contudo, por seus privilégios, a burguesia pagou um preço: o medo da iminente revolução do proletariado.