Como as gerações de classes trabalhadoras lidaram com as alterações de concepção de tempo?
O Estado capitalista e a luta de classes
Tema 2 A disciplina do trabalho e a luta de classes
Pense um pouco sobre sua relação com o trabalho. Quanto tempo do seu dia é destinado a trabalhar ou ter lazer? Já considerou o quanto você depende de uma outra pessoa dedicando o próprio tempo ao trabalho para que você tenha acesso a alimentos, vestimentas, meios de transportes, medicamentos etc.?

De alguma maneira, a experiência da pandemia de Covid-19, que teve início no Brasil em março de 2020, convocou nossa sociedade a considerar essas questões e a necessidade de dinâmicas de disciplina do trabalho. Por exemplo, com o isolamento social, alguns trabalhadores e trabalhadoras puderam realizar o home office, e isso só foi possível porque novas dinâmicas no mundo do trabalho foram estabelecidas. Foram tempos difíceis, quando, além de médicos e enfermeiras, entregadores e motoristas de aplicativo realizaram o trabalho essencial de fazer circular mantimentos e remédios. Embora novos modos de viver e trabalhar tenham sido promovidos, houve o estranhamento da classe trabalhadora por não mais viver a mesma rotina e a disciplina do local de trabalho.

Fazemos essa problematização no início desta nossa aula, pois as concepções sobre os hábitos de trabalho de uma época, assim como a classe social e o gênero ao qual pertencemos são elementos que constituem a nossa subjetividade, nossos costumes e as formas de nos inserirmos no mundo do trabalho e compreendermos o tempo.
As formas de percepção e vivência são históricas e, de acordo com Edward P. Thompson, a transição para a sociedade capitalista foi um momento de rupturas significativas nas estruturas de disciplina de trabalho e as concepções de tempo, que, inclusive, podem nos ajudar a refletir sobre o nosso próprio presente.
Tempo, Disciplina do Trabalho e Capitalismo Industrial
Preocupado com a temática da disciplinarização do trabalho e as consequências para a classe trabalhadora, o historiador inglês escreve o capítulo Tempo, Disciplina do Trabalho e Capitalismo Industrial presente no livro Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional.
No início do seu texto, o autor demonstra como, a partir da literatura, podemos evidenciar as transformações nos modos de perceber o tempo no transcorrer do século XIV ao XVII na Europa Ocidental. Logo, apresenta a aparição do galo em textos literários como recurso natural de marcação do tempo e cita o Conto de Canterbury, apresentado a seguir:
[Chantecler] Levantou o olhar para o sol brilhante
Que no signo de Touro percorrera
Vinte e tantos graus, e um pouco mais,
Ele sabia pela natureza, e por nenhuma outra ciência,
Que amanhecia, e cantou cora voz alegre [...].
(THOMPSON, 1998, p. 268)
Podemos facilmente supor que, na ausência de relógios mecânicos, era a natureza que exercia o papel importante de situar a vivência humana no tempo. Contudo, Thompson dá evidências das diversas formas que essa relação pode ser estabelecida, ao tratar do caso dos povos ditos primitivos, assim como argumenta que outros instrumentos de medição eram utilizados quando, por exemplo, recorria aos valores e culturas de famílias diante do trabalho — doméstico ou não. O tempo do trabalho doméstico, o trabalho no campo, assim como outras formas de atividades humanas, era utilizado para estabelecer marcações de tempo.
O argumento fica mais claro quando o texto recorre ao estudo de Evans-Pritchard e sua análise da medição do tempo dos Nuer, que se fundamentava na rotina das atividades pastoreias, sendo o próprio gado o “relógio doméstico”. A seguir, destacamos o trecho em que o autor menciona esse exemplo:
Entre os nandi, a definição ocupacional do tempo evoluiu, abrangendo não apenas cada hora, mas cada meia hora do dia — às 5h30 da manhã os bois já foram para o pasto, às 6 h as ovelhas foram soltas, às 6h30 o sol nasceu, às 7 h tornou-se quente, às 7h30 os bodes já foram para o pasto etc. uma economia inusitadamente bem regulada.
(THOMPSON, 1998, p. 269)
Para saber mais sobre os povos “Nuer” e suas noções de tempo, acesse Os Nuer.
Em outras culturas, outros afazeres domésticos assumem o papel de medidor de tempo, como em Madagascar, onde se considera o tempo necessário para um arroz ser cozido (meia hora) ou um gafanhoto ser frito (um momento) (THOMPSON, 1998, p. 269-270).
Dessa maneira, os ritmos da natureza, os costumes, os afazeres — domésticos ou da agricultura e criações — conduziam a relação que as sociedades pré-industriais estabeleciam com o passar do tempo. As festas, as estações do ano, o tempo de cozimento do arroz etc. davam ritmo à vida, até que foram, paulatinamente, substituídos pelo relógio mecânico com a emergência do capitalismo industrial.

Segundo Thompson, foi a partir do século XVIII que o relógio foi incorporado pela lógica das fábricas, e, portanto, essa invenção medieval passa a ocupar centralidade nas relações de trabalho.
Em outras palavras, a partir da Revolução Industrial e a emergência de uma lógica fabril com demandas de maior produtividade e, por consequência, maior exploração da força de trabalho, que a implantação do relógio nesses ambientes veio desempenhar um papel fundamental na mudança de hábitos e costumes e significação do tempo.
A esse respeito, Thompson (1998) explica que, enquanto a manufatura era produzida em escala doméstica ou em oficinas de pequeno porte, o grau de sincronização do tempo e trabalho era menor (p. 280). Para entendermos melhor o que seria essa sincronização, basta pensarmos que o tecelão do século XVIII não reservaria oito horas do seu dia para produzir suas peças, pois ele dedicaria parte do dia à colheita, ao cuidado dos animais, podendo dedicar poucas horas de suas manhãs e suas noites para a tecelagem. Além disso, precisaria reservar tempo para o transporte de materiais, ou ainda, participar de associações e enforcamentos públicos.
Havia irregularidades no tempo e disciplina do trabalho, como também havia mais tempo voltado ao lazer. (THOMPSON, 1998, p. 281). Não havia problema em respeitar um ritmo natural do trabalho e, assim, dormir uma hora a mais e deixar para trabalhar no período da noite, à luz de velas. Inclusive, segunda-feira era considerada um prolongamento do domingo, um dia para se trabalhar menos.
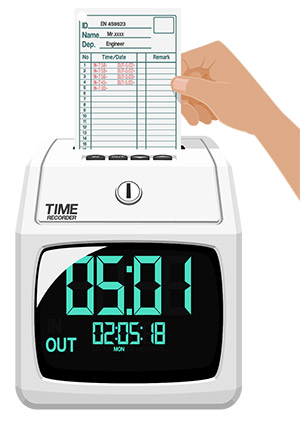
Na época em que os homens e as mulheres estavam no controle de sua vida produtiva, o padrão de trabalho era intercalado por momentos de atividade intensa e outros de ociosidade. (THOMPSON, 1998, p. 282).
A partir do século XIX, contudo, intensifica-se a demanda por uma maior sincronização de tempo e trabalho pela lógica industrial, orientada pela lógica do lucro dos detentores de meios de produção. Dessa maneira, os trabalhadores e as trabalhadoras que podiam atender suas necessidades de dormir mais, parar para comer quando estivessem com fome e, mesmo se divertirem quando tivessem oportunidade, tiveram que transitar para um mundo do trabalho em que o tempo e o trabalho eram regulados pelo relógio e expectativa de produtividade em horas trabalhadas de maneira contínua no espaço da fábrica.
Sendo assim, a epígrafe que Thompson escolhe para abrir seu texto sobre disciplina do trabalho e tempo pode nos causar um estranhamento. Nela, um senhor reage com certa indiferença quando lhe é desejado que Deus o ajude a terminar logo um trabalho, conforme podemos conferir a seguir:
Mantínhamos um velho criado, cujo nome era Wright, trabalhando todos os dias, embora fosse pago por semana, mas ele fazia rodas por ofício [...]. Certa manhã aconteceu que, tendo uma carroça quebrado na estrada [...], o velho foi chamado para consertá-la no lugar em que o veículo se encontrava; enquanto ele estava ocupado fazendo o seu trabalho, passou um camponês que o conhecia, e o saudou com o cumprimento de costume: Bom dia, velho Wright, que Deus o ajude a terminar logo o seu trabalho. O velho levantou os olhos para ele [...] e, com uma grosseria divertida, respondeu: Pouco me importa se ele ajudar ou não, trabalho por dia.
(DEFOE apud THOMPSON, 1998, p. 267)
Estranhamos a reação do senhor, porque a rapidez e a produtividade são valores fundamentais para a nossa sociedade. A produção industrial exige maior sincronização de trabalho, bem como maior exatidão nas rotinas. Ascende, assim, um tempo condicionado ao uso recurso tecnológico a partir da exploração da mão de obra, e o mundo do trabalho não é mais regido pelos ritmos da natureza ou atividades domésticas.
Para a consolidação do capitalismo industrial, a classe trabalhadora precisou interiorizar uma nova percepção do tempo. No início, houve muita resistência: como convencer aquele que guardava a segunda-feira de que ele precisava estar em pleno desempenho neste dia, mesmo depois de horas de diversão nas tavernas?
Livro de leis da Siderúrgica Crowley
A alternativa encontrada pelos patrões foi instituir severas doutrinas mercantilistas para combater o ócio e ampliar os desempenhos. Dessa maneira, a estratégia era manter os salários baixos e realizar o registro do tempo de trabalho. Isso pode ser demonstrado no Livro de leis da Siderúrgica Crowley. Nele, o proprietário formula um código disciplinar que determina que apenas as horas efetivamente trabalhadas deveriam ser pagas, então argumenta que as 13 horas de serviço deveriam ser calculadas, sendo descontadas as idas às cervejarias, o tempo tirado para alimentação, descanso, conversa, e previa desconto das horas de lutas e brigas. O responsável pelo controle era o supervisor e diretor da fábrica, que deveria ter um registro de entradas e saídas. Para não haver erro no controle das atividades, elegia-se um relógio para marcar o tempo, sendo autorizado ao diretor da fábrica a manter esse relógio trancado para que suas horas não fossem alteradas. Sobre a rotina do trabalho nesse ambiente, Thompson explica que às cinco da manhã era tocado o sino para o início da atividade, depois às oito para o café da manhã, com duração de meia hora, seguido por um sinal ao meio-dia para o almoço de uma hora, encerrando-se o dia às 20:00 horas (THOMPSON, 1998, p. 289-290).
Thompson utilizou como fonte de pesquisa o Livro de leis da Siderúrgica Crowley. A obra resulta do interesse do autocrata Crowley em projetar todo um código civil e penal para o ambiente de sua fábrica. A obra chegou a ter mais de 100 mil palavras destinadas a lidar com o que eram consideradas forças de trabalho rebeldes.
Partindo das exigências do patrão da siderúrgica Crowley, podemos reconhecer como as reivindicações dos trabalhadores conquistaram direitos como férias, 13º salário e escalas de trabalho que garantem mais dignidade nos trabalhos formais. Por outro lado, podemos refletir o quanto a luta da classe trabalhadora é contínua, considerando que a seguridade social não alcança os trabalhadores informais, que aumentam em número em momentos de crise, tendo como consequência o desemprego.
Podemos notar como eram exaustivas as jornadas de trabalho. Ademais, convém salientarmos que essas longas jornadas eram cumpridas em ambientes insalubres das fábricas no século XVIII, XIX e mesmo XX, afinal eram espaços que não tinham normas sanitárias e de segurança do trabalho a obedecer.
Os trabalhadores e as trabalhadoras passavam horas a fio realizando atividades repetitivas, sincronizadas e sem sentido, um momento de desatenção gerado por cansaço poderia pôr em risco a vida de um trabalhador e de seu grupo. Outro problema que podemos levantar era a carência alimentar, já que esses trabalhadores e trabalhadoras não contavam com a mesma disponibilidade de tempo para se dedicarem ao cultivo de animais e gêneros agrícolas, assim como eram mal remunerados. No caso das mulheres, além dessa rotina da fábrica, ainda eram atribuídas a elas responsabilidades domésticas, sendo suas moradias, muitas vezes, cortiços precários.
Destacamos que a transição para essa lógica capitalista no mundo do trabalho não se deu sem resistência. Quanto a isso, Thompson explica que no primeiro momento houve uma simples resistência, seguida de uma luta mais organizada, mas, com o tempo, foram incorporando uma nova relação. A esse respeito, o historiador inglês ponderou:
A primeira geração de trabalhadores nas fábricas aprendeu com seus mestres a importância do tempo; a segunda geração formou os seus comitês em prol de menos tempo de trabalho no movimento pela jornada de dez horas; a terceira geração fez greves pelas horas extras ou pelo pagamento de um percentual adicional (1,5%) pelas horas trabalhadas fora do expediente. Eles tinham aceitado as categorias de seus empregadores e aprendido a revidar os golpes dentro desses preceitos. Haviam aprendido muito bem a sua lição, a de que tempo é dinheiro.
(THOMPSON, 1998, p. 294)
“Tempo é dinheiro”

Ao incorporar a noção de que “tempo é dinheiro”, a classe trabalhadora conquistou maiores direitos, mas, por outro lado, a internalização da disciplina gerou a crise do ócio. Para Thompson, a ética puritana incentivou o desenvolvimento de um relógio moral interior. A ideia “tempo é dinheiro” levou à necessidade de lidar com o tempo de maneira utilitária, fazendo do lazer um problema. Nessa linha de raciocínio, o argumento thompsoniano estabelece relações com o presente, quando o historiador inglês se pergunta como as indústrias de entretenimento no futuro iriam lidar com a questão do tempo, já que constata: “Na sociedade capitalista madura, todo tempo deve ser consumido, negociado, utilizado; é uma ofensa que a força de trabalho meramente ‘passe o tempo’” (THOMPSON, 1998, p. 298).
Já se passaram trinta e um anos da primeira edição do livro Costumes em Comum e, quando Thompson se refere ao desafio do entretenimento e do lazer nas sociedades industriais do futuro em 1991, nem se cogitava que o mercado encontraria nas redes sociais uma forma de fazer o sujeito produzir informação com a sensação de estar se entretendo. Não por acaso o Facebook, apenas por coletar informações de seus usuários, é hoje uma das empresas mais valiosas do mundo.
Feitas essas considerações, podemos refletir: como temos lidado com o nosso tempo e nossa disciplina de trabalho?